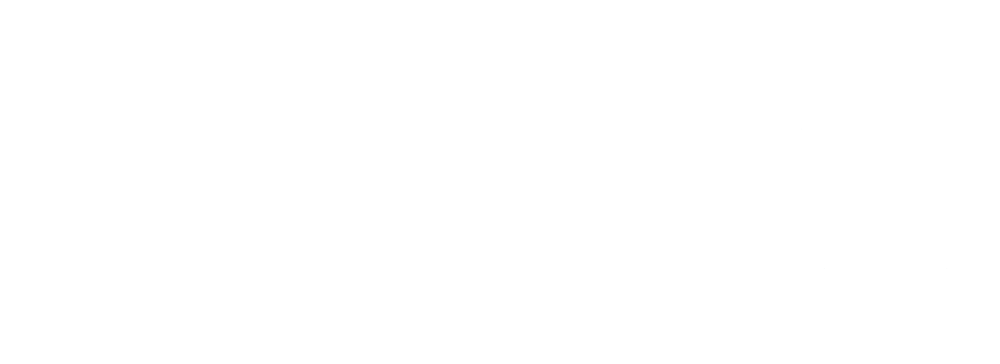Agradeço sobretudo a Rocha Balanga e ao seu amigo do governo provincial, sem o qual nunca teria visto os campos. Também para Ronnie Kasrils pelas suas reminiscências, Chloé Buire pela ideia para este artigo, e meus colegas no projeto Global Soldiers (https://global-soldiers.web.ox.ac.uk/), Jocelyn Alexander, Arianna Lissoni, JoAnn McGregor e Daria Zelenova. Global Soldiers é financiado pela Leverhulme Trust, bolsa RPG-2019-198.
Dados relativos a este artigo: «Traces of Solidarity in Liberation Training Sites in Angola: Photographs from Caculama and Camalundu Camps». 2021. https://nakala.fr/collection/10.34847/nkl.a80e675h
Esta colecção é constituída por 51 fotos tiradas pelo autor em 2021 nos campos de Caculama e Camalundu. É abreviada como «CC Collection» [Caculama e Camalundu].
e consiste em dois conjuntos de dados:
«Campo de Caculama (Angola): Fotografias». https://doi.org/10.34847/nkl.03a3s26c. 19 imagens (CC Colecção no. 1 a 19).
«Centro de treino de Camalundu (Angola): Fotografias». https://doi.org/10.34847/nkl.bac58wy7. 32 imagem (CC Collecção no. 20 a 51).
Localização de Caculama: 9°28’43.3”S 16°51’12.2”E (geo:-9.4787,16.8534)
Localização de Camalundu : 9°10’37.2”S 16°10’13.8”E (geo:-9.17701, 16.1705)
De meados da década de 1970 até o final da década de 1980, a recém-independente Angola recebeu os guerrilheiros que lutavam pela libertação do Zimbabwe, Namíbia e África do Sul, do domínio branco. Durante este período também estiveram presentes oficiais militares cubanos e soviéticos que ajudaram a treinar as forças armadas do Estado angolano e dos movimentos de libertação exilados, bem como um número substancial de civis cubanos cuja experiência foi fundamental para a construção e manutenção do Estado pós-colonial em Angola: um Estado que, desde o momento da independência em 1975, se encontrava confrontado com uma guerra civil. Desde 2020 venho colaborando num projecto que visa entender a natureza dessas conexões. A pesquisa para este projeto baseou-se bastante em entrevistas com oficiais, soldados e civis que ainda se conseguem recordar deste período, complementadas com memórias publicadas.
Em 2021, visitei dois dos locais, na província de Malanje, onde os exércitos de libertação foram treinados. Caculama foi criado no final da década de 1970 pela ZAPU (Zimbabwe African People’s Union) para o seu braço armado (ZIPRA), e entregue ao Umkhonto weSizwe (MK), braço armado do ANC (African National Congress da África do Sul) após a independência do Zimbabwe, quando os soldados da ZAPU puderam regressar a casa, no início da década de 1980. Camalundu foi fundado na época colonial, como um centro de melhoramento agrícola, e posteriormente usado como centro de treino por instrutores civis cubanos. Ambos os locais estão actualmente desocupados e sem utilização. Embora a maior parte da minha pesquisa em Angola tivesse como preocupação realizar entrevistas, a visita aos dois locais foi motivada pelo desejo de ver que legado físico havia sido deixado pelas pessoas de várias nacionalidades que lá tinham estado. Fora-me dito que havia inscrições nas paredes do local de Camalundu, mas à chegada fiquei impressionado com o número de superfícies cobertas com textos a lembrar a função passada dos edifícios. Tinha uma câmara comigo, mas também um iPad cuja lente grande angular tinha melhor capacidade para capturar as inscrições expansivas. Minha primeira reacção foi de gravar as inscrições para auxiliar a minha própria memória mas, mais importante ainda, para benefício daqueles que não compartilhariam a minha sorte de ter podido visitar o local. Também estava ciente de que as estruturas não durariam para sempre e, tanto quanto sei, ninguém mais criou um registo fotográfico das instalações. Como este artigo mostrará, as fotos também proporcionaram uma oportunidade de olhar novamente para o cenário, encontrar detalhes pouco perceptíveis e reflectir sobre o que vi, à luz da leitura e das conversas subsequentes.
Localização de Caculama (no Google Map)
Segundo «Map of transnational connections», Global Soldiers in the Cold War. University of Oxford. https://global-soldiers.web.ox.ac.uk/research-map.
Localização de Camalundu (no Google Map)
Ibid.
À medida que o estudo das lutas de libertação se afastou das narrativas centradas na nação para as perspectivas internacionais da «Guerra Fria Global» (Westad 2007), numa primeira fase, e posteriormento para a integração das lutas locais e motivações individuais no contexto internacional (Alexander, McGregor e Tendi 2017), o campo de treino tem sido considerado como um ambiente peculiar que alimentou tipos específicos de relações sociais e políticas. Na sua monografia sobre os campos de treino da SWAPO, Williams (2015, 11) enfatiza o grau de controlo que os movimentos de libertação exerciam sobre quem lá vivia. O estudo de Panzer sobre a FRELIMO no exílio caracterizou o campo como um lugar de «soberania contingente» no qual um país anfitrião permite que movimentos de libertação exilados assumam algumas funções de controlo, semelhantes a funções de estado, sobre os seus membros aí alojados – neste sentido, os campos são lugares de «construção de proto-estado», que podem reforçar a sua legitimidade aos olhos daqueles que lá estão acomodados (Panzer 2013). Alexander e McGregor (2004), escrevendo sobre a ZAPU no exílio, retratam os campos como lugares que representavam uma ameaça para « o sentido de protagonismo “sense of agency” dos guerrilheiros », em que estes se tornavam «peões em diferendos internacionais e internos dos seus doadores e dos seus dirigentes» (80), ainda que « o período de formação tenha sido uma maravilhosa experiência no estrangeiro, e de orgulho pela aquisição de novas capacidades militares e sofisticação política» (88).
No caso do MK em Angola, uma série de memórias de antigos combatentes do ANC recorda os campos como espaços de aprendizagem e de intercâmbio (Kasrils 2004), e de frustração e brutalidade (Twala and Benard 1994; Dyasop 2021). Várias destas obras capturam os sentimentos ambivalentes dos seus autores sobre a educação política recebida nos campos em nome da luta moralmente necessária, e os abusos e repressão ocorridos em nome dessa mesma luta (Ngculu 2009; Manong 2015). Como referido por Williams (2011, 11), as revelações sobre a natureza repressiva dos campos operaram uma mudança crítica na historiografia do ANC (Trewhela 2009; Ellis 2014). Longe das recordações presentes, em algumas da memórias, de uma luta árdua inspirada por um marxismo-leninismo internacionalista, esta literatura encara a busca da libertação nacional pervertida pela influência ideológica do SACP (Partido Comunista da África do Sul).
Além dessas considerações específicas sobre os campos, existe outra abordagem inovadora nas histórias de libertação do Terceiro Mundo nomeadamente o foco nos locais onde os participantes dessas lutas de libertação e representantes dos governos do Terceiro Mundo se cruzaram (Burton 2019; Mabeko-Tali 2020; Mokhtefi 2018; Roberts 2021). Estes estudos tipificaram os pontos de passagem em capitais imperiais ou revolucionárias. Os locais rurais remotos dos campos em Malanje eram os menos óbvios para trocas globais de ideias. No entanto, as memórias e reminiscências de pessoas que lá passaram deixam claro que os campos eram locais onde combatentes de libertação sul-africanos e zimbabweanos encontraram instrutores cubanos em solo angolano. Mesmo que não haja registo escrito das conversas que aí tiveram lugar, as fotografias dos slogans pintados em Camalundu evidenciam que quem ali estava concebia a sua missão como parte de uma luta política abrangendo o globo.
O acesso aos locais foi, como acontece frequentemente, obra do acaso. Estando em Luanda encontrei-me com um velho amigo, originário da província de Malanje. Quando lhe falei sobre a minha investigação, ele referiu-me os campos de treino de que lhe falara um amigo que trabalhava no governo provincial de Malanje. Em Outubro de 2021 esse funcionário do governo levou-nos a visitar os locais.
Camalundu é acessível numa viatura normal, desde que se saiba como lá chegar. A Oeste de Malanje na Estrada principal para Luanda, vira-se numa saída para o norte na estrada asfaltada em direção a Kota, continuando em estradas de terra bem conservadas para servir as fazendas comerciais rodeadas de cercas. Chega-se então a um terreno aberto, uma aldeia povoada de casas de adobe castanho. Além da aldeia, num campo aberto, veem se os edifícios de alvenaria típicos da arquitectura colonial portuguesa tardia, pintados em tons pastel desbotados.
Esta herança arquitectónica é testemunho das origens do local, como parte da estratégia de «desenvolvimento agrícola», utilizada na África Austral na tentativa de legitimar a última vaga de colonização, após a segunda Guerra Mundial e, mais especificamente em Angola, como parte das mudanças realizadas em resposta às revoltas anti-coloniais de 1961.
Foto 1 (CC Collection no. 48): Camalundu
O campo de Camalundu, conhecido como Hoji-ya-Henda, em homenagem a um herói da luta de libertação nacional do MPLA, está rodeado por terra arável.
Foto do autor.
Identificador permanente : https://doi.org/10.34847/nkl.bac58wy7.
Download imagem.
Essas tentativas coloniais tardias de reforma não destruíram as aspirações de independência, base da mobilização dos três movimentos anti-coloniais, a FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola), o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) e a UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola), cada uma das quais emergiu de elites sociais rivais de base regional. Após a Revolução Portuguesa de 25 de Abril de 1974 ter anunciado o fim do domínio colonial, a desconfiança mútua entre os três movimentos angolanos destruiu os planos para uma transição para a independência sob um governo de unidade. À medida que a independência se aproximava, o conflito atraiu a atenção dos Estados Unidos e da África do Sul, preocupados com a tomada do poder por um governo de esquerda em Angola. Só a assistência militar cubana, solicitada pelo MPLA, é que impediu uma invasão sul-africana, tendo destruído praticamente as forças da FNLA e forçado a UNITA a recuar para redutos nas florestas do sul e leste de Angola.
Depois de o MPLA ter assumido o controlo do Estado de Angola independente foram os militares cubanos quem consolidaram o controlo governamental no interior e os civis cubanos quem providenciaram o capital humano em substituição dos funcionários portugueses que partiram. Em Camalundu, os cubanos providenciaram formação em enfermagem e agricultura. O campo recebeu o nome de Hoji-ya-Henda, nome de guerra de José Mendes de Carvalho, um jovem guerrilheiro do MPLA morto em combate em 1968, que se tornou um ícone da luta anti-colonial angolana.
O nosso anfitrião disse-me que havia várias inscrições nas paredes de alguns dos edifícios em diferentes línguas. A primeira em que reparei era constituída pelas palavras «IAN NGOYI» pintadas em maiúsculas, a negro, na parede de uma casa, já sem telhado. Ngoyi é um apelido sul-africano mas o nome escocês Ian não é comum no país. Demorou algum tempo até que eu me apercebesse de que havia um bocado de argamassa em falta à esquerda de «IAN». Era uma referência a Lilian Ngoyi, enfermeira e activista política, uma das líderes da Marcha das Mulheres de 1956 («The 1956 Women’s March, Pretoria, 9 August» 2011). Em 9 de Agosto desse ano pelo menos 10 000 mulheres marcharam em direcção à sede do governo em Pretória protestando contra a extensão, às mulheres, das Leis do Passe, que regulavam a circulação de pessoas negras nas áreas urbanas. A marcha é recordada na África do Sul como um momento chave na resistência popular ao apartheid. Dado que ocorreu quase 20 anos antes da independência de Angola, a inscrição do nome de Ngoyi no edifício parecia ser um acto comemorativo s do evento.
Foto 2 (CC Collection no. 24): Camalundu
Lilian Ngoyi, uma das líderes da Women’s March, de 1956, faleceu em 1980.
Foto do autor.
Identificação permanente: https://doi.org/10.34847/nkl.bac58wy7.
Download imagem.
Atrás do que resta do nome de Lilian Ngoyi, são visíveis fragmentos de uma outra inscrição: «Del pa… radica en su… masas» era suficiente para mostrar que se tratava da língua espanhola, uma herança cubana presumivelmente. Não estava optimista relativamente a decifrar o resto do slogan. Meses depois, pensei perguntar a especialistas sobre Cuba se o reconheciam, mas não foi necessário. Bastou uma pesquisa no Google com «Cuba» para rapidamente surgir o slogan completo: «La fuerza del partido radica en su vinculación estrecha con las masas» («A força do Partido radica na sua vinculação estreita com as massas»). Este era o slogan do congresso de 1980 do Partido Comunista Cubano.
Este edifício estava replicado por uma estrutura idêntica do outro lado da área aberta, ostentando o slogan pintado: «VI Cumbre un paso mas en la unidade de los no-alineaos» (VI [seis] dá mais um passo na unidade dos não alinhados). O nosso anfitrião explicou ser a referência ao VI Congresso do Movimento dos Não-Alinhados, realizado em Havana em 1980.
Foto 3 (CC Collection no. 20 & 21): Camalundu
O slogan refere-se à sexta conferência do Movimento dos não alinhados, realizada em Havana: ‘VI [sexta conferência] dá mais um passo na unidade dos não alinhados.’
Foto do autor.
Identificador permanente: https://doi.org/10.34847/nkl.bac58wy7.
Download imagem no. 20 & imagem no. 21.
Em outro edifício, numa viga de cimento horizontal, acima do que parece ter sido a entrada principal, o nome «Cetshwayo» é claramente visível em tinta vermelha, com emblemas de um escudo e lanças em ambos os lados. Cetshwayo foi o último monarca zulu antes da conquista do reino pelo Império Britânico em 1879. Num edifício semelhante, novamente na viga acima da entrada, as letras «… O C… MI…» sugerem que o edificio fora nomeado em honra de Ho Chi Minh numa certa altura. A conexão com o líder revolucionário vietnamita é confirmada por um mural noutro edifício, no qual as linhas restantes de tinta escura são suficientes para definir a imagem de seu rosto esbelto e com barba. Abaixo do retrato icónico, um texto pintado é quase invisível. O nosso anfitrião conhecia o slogan e conseguiu preencher as lacunas para elaborar uma tradução em inglês de uma frase associada a Ho Chi Minh: «Nada é mais precioso do que a liberdade e paz.»
Foto 4 (CC Collection no. 34): Camalundu
O nome do rei Zulu Cetshwayo, com emblemas de um escudo e de lanças noutro lado. O ANC declarou como ‘Ano da Lança,’ o ano de 1979 assinalando o centenário da última guerra de Cetshwayo contra o Império britânico.
Foto do autor.
Identificador permanente: https://doi.org/10.34847/nkl.bac58wy7.
Download imagem.
Foto 5 (CC Collection no. 39): Camalundu
Uma imagem desbotada de Ho Chi Minh dificilmente visível acima do texto de uma das palavras de ordem, ‘Nada é mais precioso do que a liberdade e a paz.’
Foto do autor.
Identificador permanente: https://doi.org/10.34847/nkl.bac58wy7.
Download imagem.
Embora houvesse palavras sobrepostas, todos os slogans aludem a eventos ocorridos num período de três anos , situando-se num contexto histórico particular.
O interesse por Ho Chi Minh é quase certamente o resultado da visita ao Vietname de uma delegação do ANC em 1978, que levou o Comitê Executivo Nacional a concluir que «A experiência do Vietname revela a existência de algumas deficiências de nossa parte e chama a atenção para áreas de importância crucial que tendemos a negligenciar» (ANC 1979). Isso levou ao desenvolvimento em 1979 de uma «linha estratégica» publicada num documento conhecido como «Livro Verde»: em resumo, sentia-se que as massas no interior da África do Sul, particularmente nas áreas rurais, não estavam prontas para apoiar uma guerra de guerrilha, e que o MK deveria optar por «ajudar a consolidar as estruturas políticas clandestinas por meio de propaganda armada» (Manong 2015, 140; ANC 1979).
Foto 6 (CC Collection no. 29): Camalundu
Os caracteres pintados neste edifício parecem ter representado o nome de Ho Chi Minh.
Foto do autor.
Identificador permanente: https://doi.org/10.34847/nkl.bac58wy7.
Download imagem.
Em relação a Cetshwayo, quando mostrei as fotos a Ronnie Kasrils, que passara algum tempo em Angola, comumo chefe da inteligência do MK, ele sugeriu que a inscrição do nome do rei zulu era referência a «O ano da lança» declarado pelo ANC em 1979 (entrevista do autor com Kasrils). Era a referência ao centenário das guerras entre o reino zulu e o Império britânico que acabou por resultar na derrota do rei Cetshwayo em Isandlwana.
O sexto congresso do Movimento dos não-alinhados realizou-se em 1980. Este foi também o ano do congresso do Partido comunista cubano, cujo slogan era visível atrás do nome de Lilian Ngoyi. Esta faleceu em 1980, e 1981 assinalava o 25º aniversário da Marcha das Mulheres. É provável que qualquer um desses eventos tenha constituído razão para a celebrar, homenageando-a com a atribuição do seu nome a um edifício do centro de treino que, à época, era utilizado pelo ANC.
Pouco depois destes acontecimentos, Camalundu deixou de ser centro de treino militar quando os combatentes foram transferidos para Caculama, cerca de 100 km a leste. Caculama tinha sido campo de treino dos combatentes da Zimbabwean African People’s Union (ZAPU). Quando o Zimbabwe se tornou independente em 1980, os soldados da ZAPU que estavam baseados em Caculama regressaram a casa e os soldados do MK mudaram de Camalundu para Caculama (Dyasop 2021, 90).
De acordo com as recordações do veterano do ZIPRA Million Moyo «Havia alguns instrutores que tinham vindo de outros campos que tinham sido bombardeados anteriormente em Angola. A nossa especialidade era a guerra de guerrilha, a guerrilha avançada e formação regular. Levamos cerca de nove meses para completar o treino. Mais tarde, a comida tornou-se um problema neste campo. Quando o treino terminou fomos levados em camiões para Luanda onde embarcámos de avião para o Zimbabwe porque o país tinha sido libertado. Isso foi em 1980» (Entrevista com Million Moyo por Nicholas Nkomo).
Sipho Binda recorda que depois de as infraestruturas de treino terem mudado para o campo «ZAPO [sic]» (presumivelmente Caculama), Hoji-ya-Henda continuou como fazenda cultivada por quadros do ANC para fornecer outros campos. (Mayibuye Centre 1993).
Caculama fica escondido numa densa floresta no fim de um caminho arenoso, contrastando fortemente com Camalundu, onde os quadros do ANC ocupavam edifícios resistentes instalados em área aberta. Os abrigos e trincheiras de Caculama falam do carácter defensivo do acampamento. Eles tornam plausível a crença, entre os quadros desiludidos do MK, de que estavam sendo usados como parte da defesa do MPLA contra a UNITA, e que a realocação dos combatentes sul-africanos de Camalundu para Caculama visava aproximá-los da linha de frente. Oliver Tambo disse-lhes que «deviam sangrar um pouco por Angola» em reconhecimento do apoio do MPLA à luta de libertação sul-africana (Dyasop 2021, 114). O resultado foi a formação de um «destacamento combinado de 1000 homens» de soldados do MK e das FAPLA (Forças Armadas Populares para a Libertação de Angola, exército do MPLA) (Kasrils 2004, 188) e o posicionamento estratégico dos contingentes do ANC em locais próximos à linha de frente na guerra contra a UNITA.
Foto 7 (CC Collection no. 8): Caculama
O campo de treino em Caculama estava rodeado por trincheiras defensivas que ainda permanecem.
Foto do autor.
Identificador permanente : https://doi.org/10.34847/nkl.03a3s26c.
Download imagem.
O soldado do MK Luthando Dyasop estava entre os que chegaram a Caculama no início de 1982, altura em que «O lugar era assustador, os trilhos estavam cobertos de vegetação, dificilmente se encontrava um espaço que não estivesse coberto por capim, e as habitações outrora usadas estavam cheias de trepadeiras, o que lhes dava um ar escuro e assombrado». O treino foi suspenso, lembra Dyasop, enquanto os soldados trabalhavam para tornar o local habitável. «Tivemos que cavar a nossa própria linha de defesa e construir os nossos abrigos» (Dyasop 2021, 90).
Foto 8 (CC Collection no. 12): Caculama
Estes bunkers estavam cobertos com telhado.
Foto do autor.
Identificador permanente: https://doi.org/10.34847/nkl.03a3s26c.
Download imagem.
Hoje essas trincheiras e bunkers com mais de um metro de profundidade ainda permanecem. Foram levantadas paredes de cimento para segurar a terra, aqui e ali decoradas com fragmentos de azulejos de cerâmica. Kasrils, que aí passou um tempo na década de 1980, lembra como os telhados foram construídos acima do nível do solo, de modo a que o piso cavado possibilitasse que se ficasse de pé lá dentro (entrevista do autor com Kasrils). Caculama alojou mais de 500 quadros ao mesmo tempo. Foi fechado em 1989 quando o MK retirou as suas forças de Angola.
Foto 9 (CC Collection no. 18): Caculama
Alguns dos bunkers tinham forma mais definitiva com paredes de cimento.
Foto do autor.
Identificador permanente: https://doi.org/10.34847/nkl.03a3s26c.
Download imagem.
Para o historiador, as fotografias de Camalundu e Caculama fornecem testemunhos de vários tipos da presença dos combatentes da libertação e da sua relação com o mundo. Camalundu é excepcional, desse ponto de vista, pelas camadas de memória que incorpora. A arquitetura, tipicamente portuguesa, com lajes de cimento no meio de terrenos agrícolas abertos, é testemunho das ambições de modernização do colonialismo tardio sob Salazar e Caetano. No entanto, as palavras de ordem revolucionárias em espanhol recordam que foi o saber técnico cubano que permitiu ao MPLA alargar as suas próprias ambições de construção do Estado à Angola rural.
Essas camadas portuguesas e cubanas de herança são anteriores à chegada dos quadros do ANC, que terão vivido no meio do legado da gestão cubana do campo, cercados por slogans em língua desconhecida. Sobre alguns deles o ANC acrescentou elementos de sua própria história nacional. Se, como estudiosos como Panzer e Williams sugerem, os campos oferecem um potencial para a construção do Estado no exílio, as fotografias de Camalundu mostram-nos evidências do trabalho ideológico de construção da nação, na forma da comemoração de heróis nacionais como Cetshwayo e Ngoyi. Do mesmo modo, a memorialização de Ho Chi Minh (a pintura de suas palavras traduzidas para o inglês só pode ter sido trabalho do ANC) nos mostra como era importante, para esse Estado-em-espera state-in-waiting posicionar-se de modo particular relativamente às ideias que circularam no mundo da Guerra Fria sobre o internacionalismo. Revela também a relação entre as lutas anti-capitalistas e anti-coloniais.
***
Caculama, num estado mais degradado, não conta uma história de forma tão explícita como Camalundu. Mas aqui, como em qualquer outro lugar, as fotografias permitem regressar e examinar texturas e detalhes. O contraste entre os espaços abertos de Camalundu e a densa floresta de Caculama evoca as necessidades estratégicas que definiram a presença do ANC em cada lugar: no primeiro, o treino e a actividade agrícola em território seguro; no segundo, uma posição defensiva próxima da linha de frente.
Williams sugere que à medida que se recua «num passado colonial/apartheid duro e altamente tangível na África Austral e que as contradições incorporadas no ‘pós-colonial’ e no ‘pós-apartheid’ se tornam cada vez mais claras, é provável que haja mais interesse em identificar e examinar os espaços sociais em que se formaram as pós-colónias da região» (2013, 3). Por um lado, esse interesse é evidente, como já se observou, na profusão de memórias refletindo sobre a vida nos campos, bem como em pelo menos num romance, Way back home de Niq Mholongo (2013): uma narrativa no estilo do realismo mágico em que um rico e moralmente degenerado empresário sul-africano é assombrado pelo seu passado, como funcionário do MK em Angola. Em Malanje, foi-me dito que uma delegação do governo do Zimbabwe tinha visitado Caculama, como um primeiro passo para reconhecer a importância do local para a história nacional. Em 2022, a dirigente política do ANC Lindiwe Zulu visitou o local do antigo campo de trânsito do MK – agora usado pelas Forças Armadas Angolanas – em Viana, em Luanda, para prestar homenagem aos mortos (Du Plessis 2022). No entanto, subsiste alguma inquietação quanto ao potencial subversivo da revisitação da história dos campos: no Arquivo de Libertação Nacional, criado na Universidade de Fort Hare na África do Sul, os arquivos respeitantes aos campos do ANC em Angola foram removidos, por uma delegação enviada da sede do ANC, durante a presidência de Jacob Zuma, apesar das objecções dos arquivistas.
Ainda que os governos pós-libertação se apressem em memorializar as lutas, a negligência dos campos no interior é um símbolo de sua própria e problemática história. Em Camalundu, tinta e gesso continuam a descamar; em Caculama, o solo cai como a areia de uma ampulheta em fossas e trincheiras. As fotografias documentaram um cenário que, daqui a vinte anos, pode oferecer menos sinais do passado.